Quando a Revolução chegou, lembro-me bem, morríamos como moscas borrifadas por inseticida sob a Ditadura. E ela foi apoiada com força como um remédio milagroso surgido para pôr termo à cólera que meus pais diziam ter sido o maior flagelo do país na época de minha infância. Com a Revolução, o povo deixou de temer a morte; Como a morte era certa de qualquer maneira, por que não na luta? E então a mortandade foi ainda maior com o recrudescimento das hostilidades. Mas então estávamos incrivelmente felizes. Lembro-me do rastilho vibrante que correu a cidade de boca em boca, gerando ainda mais determinação na luta: os mortos não têm mais aquela cara de dor torturante, não têm mais o semblante desolado dos que não veem salvação. Era assim que diziam as pessoas alvoroçadas em todas as esquinas, no porto, no feio e pobre casario dos arrabaldes, nos salões luminosos dos hotéis de luxo. Lutavam e cantavam felizes. Fora porque a vida ganhava sentido, o futuro voltava a depender exclusivamente de nossa ação. A Revolução gestara tão poderoso milagre que mudara até a face da morte, pois os que morriam tinham-na descansada, um leve sorriso distendendo seus músculos.
Foi um tempo de apertos que pensávamos superado definitivamente, pois após a guerra as cidades reconstruídas ganharam vitalidade, as indústrias e o campo voltaram a produzir, as casas voltaram a encher-se de vida e música. As crianças substituíram o matraquear das armas automáticas pela alacridade de suas algazarras domingueiras. As pessoas unidas desejavam lembrar o passado apenas o suficiente para não esquecer a memória dos heróis.
Por algum tempo houve consenso e de mãos dadas buscamos a felicidade. Ou porque nada é eterno, ou a perfeição humana é apenas uma quimera, a desventura voltou a rondar o país como ave de mau agouro. Os anos foram dilapidando os fortes alicerces revolucionários como a velhice desfigura as pessoas. Tão lentamente que a maioria do povo não se apercebeu das mudanças. E continuou mourejando de sol a sol como sempre fez. Quando a palavra Ditadura foi ressuscitada, após quinze anos proscrita, nem eu quis aceitar. Aquele homem levado pela milícia, arrastando os sapatos na imperfeição do calçamento de pedra, era apenas um contrarrevolucionário. Assim também entenderam as pessoas que viraram os rostos na rua a procura dos gritos e da algazarra que denunciavam a cena. Nunca esqueci aquilo. Não só por evocar o passado, mas pelo fato de se tornar corriqueiro daí em diante. Tanto mal me fez que em casa passei a desconfiar de mim mesmo e sei que muitas outras pessoas agiram igualmente. Outras ainda fizeram pior: delataram vizinhos e amigos por insignificâncias. Olhava-me no espelho do banheiro à procura do menor sinal que denunciasse ideias hostis ao governo. O que via era apenas o meu rosto murchando, sulcando-se apressadamente de rugas, ganhando contornos que se pareciam com os de meu pai sob a Ditadura na década de 1950.
Fremi de medo. Recuávamos no tempo? E se recuávamos, por que meu rosto não rejuvenescia?
Entendi que emergia da alma nacional uma insatisfação contra algo que não era novo, já experimentado e recusado. Nas ruas, a milícia continuava o seu trabalho de arrastar homens para as masmorras ou jogá-los dentro de carros numa viagem sem itinerário. As ausências nos lares não tinham explicação. O choro dos filhos, das mulheres, das mães era um termômetro do retrocesso.
O nosso Messias, o grande líder, passou a ser desrespeitado na rua. Não que ele andasse por aí, a cara à mostra mesmo com guarda-costas, sendo desacatado, xingado, coberto de impropérios e tomates podres pelos descontentes. Nada disso. No primeiro protesto ele recebeu furtivamente bigodes nos out-doors que celebravam as conquistas e o aniversário da Revolução, à semelhança do Ditador que ele depusera, e o mesmo epíteto em grafite negro: Ditador! Vi isso na ida ao trabalho bem cedo no grande parque colonial. Diante do out-door pregado ao gradil, o povo aglomerava-se. Conferia incrédulo se aquilo era mesmo o velho ou o novo ditador tamanho a semelhança; se aquilo era real ou sonho. Duvidava, como eu mesmo duvidei naquele momento, se a Revolução acontecera ou se tudo não passara de um delírio da soalheira tropical. Mas num piscar de olhos, como se de olhos bem abertos estivesse a vigiar todos os nossos movimentos, a polícia chegou batendo em todo mundo e acabando o charivari. A solução inesperada para fazer sumir imediatamente dali a imagem vilipendiada do Messias não foi outra senão destruí-la. Ainda que de longe, quando o out-door foi ao chão, o povo aplaudiu calorosamente como se depusesse o novo Ditador.
Foi por essa época que tirei definitivamente a venda dos olhos. E tudo pareceu tão diferente. Com tristeza pude ver que a cara do povo não guardava mais qualquer traço dos dias revolucionários. Era uma cara abatida, sombria, olhos fundos de fome e miséria; rugas profundas marcavam os rostos cansados como se o látego do Ditador os ferisse diariamente por qualquer contestação. Até o país cheirava a morte e abandono. Os prédios, entregues à desídia da Revolução, caíam aos pedaços. As cornijas de portas e janelas despregavam-se em blocos. As pinturas antigas se pareciam com as da época do primeiro Ditador. Os carros eram os mesmos de meio século atrás, mais velhos pelo uso e a falta de manutenção. Andar naquelas ruas, entrar naqueles carros, era recuar no tempo. Como pudera por tanto tempo não ver o que me alarmava os olhos agora? Como pudera andar pelas ruas, conversar no trabalho e nos parques da cidade aos domingos alheio à realidade?
Será que alguma vez quisera romper os liames do pesadelo, tocar a pessoa ao lado para ouvir a sua opinião? Será que o tétrico diálogo foi mais ou menos assim após minha admoestação:
— Não vê que tudo isso é um sonho de morto?
— E somos mortos? — perguntei.
— Sim, morremos no combate ao desembarque americano da Baía, não percebeu ainda?
— Não pode ser, comemorei aniversários da vitória na Praça da Revolução.
— Estivemos lá sim, ou melhor, os nossos fantasmas.
— E não podemos fazer nada? — aniquilei-me.
Desolado, o outro sacudiu a cabeça negativamente.
Ainda insatisfeito, voltei ao assunto, querendo maiores detalhes:
— E o Ditador, que ninguém vê há tempos. O povo só o vê em retratos pela cidade, tão novo como nos tempos revolucionários, que logo são cobertos de porcarias e palavras de ordem. Será que só nós, o povo, envelhecemos?
— Igual a nós, também ele já morreu.
— Morreu?
— Sim, está morto. E faz tempo. E levou consigo a Revolução.
— E como se resolve isso? — excitei-me.
Ele percebeu meu estado e me repreendeu.
— Calma, os mortos não se podem excitar. Temos que ser pacientes e esperar. A eternidade é a medida de nossa paciência. Somos para o todo e sempre testemunhas dos acontecimentos. Só isso!
Após ver que me acalmara, ele voltou ao assunto:
— O caso do Ditador é mais simples do que parece. Quando o povo perceber que ele não mais aparece em locais públicos, que o Palácio é inacessível, que só os porta-vozes falam por ele, porque ele morreu, vai providenciar rápido o seu enterro e o seu esquecimento.
jjLeandro


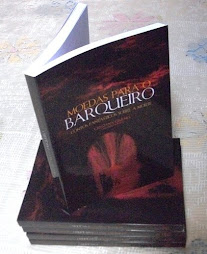













3 comentários:
Traumas do silêncio e os benefícios do esquecimento, não é JJ?
Adorei seu texto!!!
Um abraço
Parabéns pelo texto. Gostei muito!
A mancha na história de um país que teve na ditadura um de seus traumas mais feridos e contratantes. Morrer em silêncio e lutar calado. Vencer com braço erguido e coragem na fé. O país saiu do caos e ainda lembra o temor.
Abraço.
Obrigado, André. É bom interagir com pessoas de minha própria cidade.
Um abraço.
Postar um comentário