Aníbal era homem calado, taciturno. Lia o mundo com as poucas letras que aprendeu na vida e o interpretava à sua maneira. Não era arrogante, mas sabia ser extremamente vingativo nas ocasiões necessárias. Era um viés exacerbado do caráter que conservava dos tempos de garimpo. Permaneceu nele a vida toda como a sífilis que também adquiriu por lá.
Nunca esqueceu os conselhos do velho Antão, o mais velho entre todos os garimpeiros, cego de um olho perdido numa briga por diamantes e mulheres: “Nunca provoque, mas também nunca deixe uma provocação sem resposta”. Isto foi logo que chegou a Morte Certa, o garimpo, debaixo de uma chuva que era um dilúvio, e o velho cego saiu de sua pequena barraca protegido por um oleado surrado para recepcionar o novo ajudante. Ainda completou com palavras que a chuva parecia tirar a dureza: “Imponha-se pela destreza e pelo medo senão será enterrado como um covarde”.
Quando Aníbal abandonou o garimpo, levou consigo a desdita de nenhuma fortuna, um rosário de mortes, treze, para ser exato, e várias cicatrizes pelo corpo.
Não se vangloriava de nada, pois nem fortuna fizera. Mas tinha o espírito apaziguado pela certeza de que os autores daquelas marcas não poderiam jamais contar sobre elas a ninguém.
Procurou uma mulher e casou. Não foi uma louca procura, como quando desembestava na busca frenética de diamantes pelo medo de que o suplantassem. Foi uma decisão tomada com calma. Tanta calma Diolinda interpretava como falta de interesse por seus predicados. É bem verdade que os tinha poucos, mas suficientes para seduzir um homem que aos cinquenta anos e uma gota tolhendo seus movimentos não podia ser demasiado exigente. Casaram-se diante do vigário em desobriga pelo sertão onde Aníbal morava resguardado às costas pela serrania e à frente por um caudaloso rio.
Não poderiam ter filhos, souberam depois de várias tentativas. Era uma maldição impingida pelo garimpo. Nunca fora homem de lamúrias, apesar de tudo. Mas a uns poucos amigos falava de filhos. Era só quando o coração abria-se, embora ainda assim com reservas: “Um homem que vai ao garimpo morre um pouco a cada dia e não sabe disso”. Aliviavam-no essas poucas palavras, como a colchicina à gota, e não dizia mais nada. Mesmo os amigos, muitos deles, interpretavam essa sentença mórbida, que era um bordão em sua boca, como um enigma ou prenúncio de loucura.
Pela ausência de filhos, o casal de perdigueiros era a sua felicidade. Umas poucas vezes dissera com olhos brilhantes de lágrimas: “São os meus filhos; dão-me amor como nenhum vivente nesta terra”. Calava-se em seguida e o mutismo que o dominava era tão inescrutável quanto a escuridão da noite abarcando o mundo. Diolinda ficava ao lado, também ela muda, os olhos igualmente marejados, a boca transida de dor num ricto que lhe descorava os lábios. Ninguém conseguia decifrar se em solidariedade à dor do marido ou amargurando a dor maior do amor preterido.
Numa manhã estival, o rio mostrando na areia fina e alva o caminho para vadeá-lo, um forasteiro apareceu em Diamantina, a sua chácara. Aníbal fora à caça e levara consigo somente Lampião, o cachorro. Maria Bonita ficara em casa, parida, com a travessa ninhada de filhotes. Recepcionou o estranho com dentes à mostra. Diolinda abandonou a cozinha para conferir o incômodo. Flagrou o estranho dando cabo em Maria Bonita com a mão de pilão que usava no preparo da paçoca de veado. Entrou em pânico e correu para a serra pela porta dos fundos. O homem não fez menção de segui-la. Ao contrário, ficou ali e satisfez-se em saquear a cozinha, levando farinha, arroz e feijão. O que ela já havia preparado para o almoço, comeu ali mesmo.
Quando Aníbal voltou da caçada, o saco com perdizes às costas, a espingarda sujeita ao ombro pela correia de couro cru, surpreendeu-se com a agitação de Lampião ao aproximar-se da casa. O cachorro desgarrou à frente. Como não podia correr, angustiou-se com a inquietude do perdigueiro. Coisa boa não era, presumiu. Na hora só pensou em Maria Bonita. No
Aníbal largou o saco com as perdizes, lançou a espingarda com raiva ao chão, urrou bem alto como animal ferido de morte, e pegou Maria Bonita ao colo.
Cinco horas depois, Diolinda, voltando sorrateira da fuga, encontrou-o ainda assim.
Ele passou cinco dias alimentando-se apenas de água e ódio. Só depois falou:
– Quem foi?
Ela encolheu os ombros, escusando-se por não saber.
– Quem foi? – gritou.
– Nunca o vi antes – desculpou-se uma vez mais.
– Como ele é?
– Só pude ver que não tem o indicador da mão direita quando levantou a mão de pilão.
Aníbal franziu a cara em dor, acusando na cabeça o golpe da maça. Não falou por outros cinco dias. Durante esse tempo, toda manhã bem cedo quando os anus pretos anunciavam em algazarra a alvorada na figueira do pátio onde Maria Bonita fora sacrificada pelo forasteiro, repetia o ritual de sentar-se numa cadeira na sombra fresca. Mantinha os olhos fixos no local da morte da cachorra. Só entrava em casa com a noite avançada. Lampião a seu lado compartilhava a dor da ausência.
No sexto dia, Aníbal balbuciou cedinho para a mulher: “Vou ao compadre Baltazar”.
Arreou o cavalo, pôs a peixeira atrás no cinto, a espingarda à bandoleira e vadeou o rio. Diolinda prostrou-se diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré no quarto penumbroso, apesar da manhã festiva, onde bruxuleava a luz de uma vela de sebo.
Ali cochichou preces e chorou até a volta do marido.
Ele só retornou quando anoitecia e as sombras das árvores rastejavam pelo chão, espichadas pelo sol agonizante. Antes, porém, Aníbal conversou longamente com Baltazar. Fora seu último parceiro de garimpo e o tinha em grande estima. Era como um irmão mais moço, mais destro e sem o incômodo e os riscos dos achaques que envilecem o corpo. Igualavam-se, contudo, em crueldade.
Aníbal disse, após contar-lhe o caso da morte da cachorra e o sinal que identificava o assassino: “Compadre, no garimpo é onde o homem aprende a não valorizar somente os diamantes”. O outro o entendeu perfeitamente e pôs sobre o ombro dele a mão num afago. Despediram-se.
No outro dia Baltazar saiu errante pelas redondezas.
Aníbal voltou ao hábito dos dias após a morte de Maria Bonita: a cadeira sob a figueira no correr do dia. À noite recolhia-se, mas o silêncio era sinal do grande luto. Diolinda sabia que ele esperava. Não lhe dirigia a palavra para não conspurcar a sua dor. Às horas certas, ele comia. Quando tinha sede, bebia água de uma cabaça que a mulher colocava ao lado da cadeira.
Da porta da frente ela o observava. O olhar dele parecia de vidro. Nem o vento alvissareiro do meio do ano fazia-o perder a gravidade. Parecia nunca piscar.
O cachorro, agora prostrado diante dele, com sol ou sombra, era uma esfinge.
Pelo décimo-quinto dia, à tarde, quando o sol torcia a sombra das árvores para leste, Diolinda saiu à porta da casa atraída pelo chapinhar de um animal no rio magro. Era Baltazar que chegava suarento e coberto de pó. De costas para o cavaleiro, Aníbal não deu sinal de vida. Lampião secundava-o alheio a sua obrigação de vigilância.
Quando a distância permitiu identificar o cavaleiro, Diolinda gritou:
– É Baltazar!
Nem assim Aníbal moveu-se. Baltazar apeou quase sobre ele e não lhe causou estranhamento a imobilidade do amigo.
Quando se virou, ouviu-o dizer num fio de voz que tremia de emoção, mas bem se podia dizer que era por causa do vento:
– Trouxe?
– Sim, compadre.
Entregou-lhe uma pequena bolsa de couro.
Os olhos de Diolinda, da porta da casa, pois não tivera coragem de aproximar-se, arregalaram-se aterrorizados. Soltou um grito e correu para dentro de casa. Os dois homens e o cachorro não lhe deram a mínima atenção.
Aníbal meteu a mão na bolsa e primeiro sentiu o contato úmido do sal. Remexeu-o com a ponta dos dedos e encontrou o que procurava: uma orelha. Seu coração disparou, os dedos tremeram, as artérias pulsaram violentamente, trazendo do passado os duelos de morte do garimpo. Ele engoliu em seco a dor que lhe obstruía a garganta. Baltazar conservava-se ao lado, imóvel e silencioso. O cachorro também acusava silêncio e expectativa.
Aníbal retirou a orelha da bolsa. Repentinamente se transformou. Olhou-a demoradamente sem outro sentimento que a frieza. Conferiu ambos os lados. Tocou com um dedo a tira de pele abaixo do lóbulo e em seguida olhou para Lampião. Este pareceu compreendê-lo, pois se espreguiçou levantando e abanou o rabo. Aníbal jogou a orelha entre suas patas dianteiras. O cachorro salivou a boca num agradecimento, cheirou o petisco, lambeu-o e abocanhou-o, mastigando-o em seguida.
Quando Aníbal ia devolver a bolsa, Baltazar murmurou grave: “Também trouxe a mão”.
O velho garimpeiro repetiu o ritual. Mas dessa vez Lampião aparou a mão que não tinha um dedo no ar com um movimento perito. Foi mastigá-la, arrancando os dedos um a um sobre a mancha do sangue de Maria Bonita, que era já quase um nada.
– Os cães são como os homens, compadre. Nunca esquecem – disse Aníbal.
E então levantou da cadeira para agradecer o favor que Baltazar lhe fizera.
jjLeandro

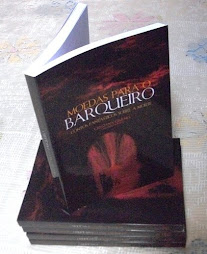













Nenhum comentário:
Postar um comentário