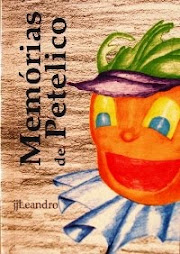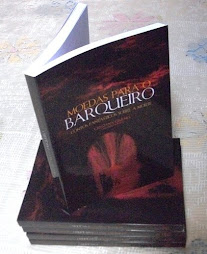Meu tio paterno caçula chegou de Belém. Meu pai recebeu-o como a um filho pródigo, os olhos verdes brilhantes revelavam o carinho que tinha pelo irmão mais moço deixado sob seus cuidados anos antes pelo meu avô Joãozinho numa viagem do agreste pernambucano a Carolina em visita ao mais velho dos filhos. Para os sobrinhos, recebíamos um herói. E tudo porque nos dias anteriores a sua chegada ouvíamos pelos cantos da casa fiapos de conversas segredadas entre meus pais, revelando lances cinematográficos da vida atribulada dele na capital paraense onde era radiotelegrafista de uma empresa aérea.
Os telegramas dando conta de sua volta mudaram o clima em casa. Meus pais tornaram-se pressurosos, embora nada dissessem aos filhos além da frase que lhes abria um sorriso forçado: ‘seu tio vai chegar’. A solicitação de maiores detalhes transformava ligeiro o difícil sorriso em careta apreensiva que antecipava a negativa: ‘Só isso basta’.
Especialmente para mim, pelos cochichos e pela tensão que meus pais tentavam disfarçar, o retorno dele não obedecia a plano algum pré-estabelecido. Inseria-se no rol das emergências. E por quê? Não era assunto que interessasse a crianças diziam-nos constantemente.
No dia em que chegou a casa amanheceu em polvorosa, minha mãe no comando das empregadas ultimava os preparativos do que parecia ser a recepção a um soldado que voltava são e salvo da guerra. A tensa expectativa dos últimos dias cedia lugar à felicidade incontida. Flores enfeitavam a casa desde a mesinha de centro na sala à grande e pesada mesa da cozinha. Os quartos foram arejados e fumigados com alfazema. Para mim, que seguia os passos de minha mãe e das empregadas no preparo da casa, iam receber o bispo.
Na hora de ir ao aeroporto do Ticoncá, pegamos um táxi na praça. O voo de Belém era para o final da manhã, mas a ansiedade foi aguilhão que nos tocou cedo para lá. E ninguém reclamou a espera de duas horas. Fiquei o tempo todo com um olho na pista e o outro nos velhos caças da FAB, sobreviventes da guerra mundial repassados pelos americanos ao Brasil após o conflito, que constantemente faziam escala na cidade em suas andanças de Belém ao Rio de Janeiro. Achava-os soberbos espetando o céu com o nariz petulante. As proezas da guerra autorizavam, sem deixar margem a questionamentos, a imponência que ainda exibiam os velhos aviões.
Por fim o barulho da aproximação do avião de Belém agitou o saguão do aeroporto e fez-me esquecer os velhos caças. O tio chegava. Minha mãe obrigou-nos a uma postura quase marcial para recepcioná-lo que chamava atenção das outras pessoas. Algumas queriam rir, outras admiravam nossa obediência. Ele passaria a tropa em revista. Eram cinco sobrinhos crescidinhos e outros dois de colo. Uma altiva guarda de honra esperava-o perfilada.
Ele desceu do avião e foi reconhecido ainda à distância na pista entre os outros passageiros. Meu pai apontou-o. A guarda de honra dissolveu-se em tumulto. Corremos a seu encontro desrespeitando as regras do militarismo familiar. Ele não teve braços para tantos abraços simultâneos. Rendeu-se imóvel preso entre os sobrinhos. Ávidas mãos procuravam seus dedos para segurar, disputando-os com alças de malas e sacolas. Fomos até meus pais como uma gigantesca e desajeitada aranha cujo corpo era meu tio e os sobrinhos as patas.
Em casa, a tietagem continuou e meu tio mantinha-nos permanentemente excitados a sua volta como um enxame de abelhas. A intervalos regulares, com gestos automáticos enquanto conversava com os adultos, retirava de um bolso lateral da calça, de um bolso traseiro, ou do bolso do blusão de aviador que ainda vestia sobre a camisa Volta ao Mundo de cor berrante, balas, pirulitos e chocolates. A nossa agitação quase tornava impossível a conversa familiar. Enquanto não vinha nova rodada de guloseimas, entretínhamo-nos com as outras novidades da capital. Um sobrinho puxava curioso a pulseira sanfonada de aço do relógio em seu pulso, outro brincava com o isqueiro de metal, imitando-o no ritual de abrir a tampa e correr o polegar sobre a pedra para acender o cigarro. Fechar o velho Zippo provocava um ‘clic’ da tampa que nos alegrava. Eu não parava de esgaravatar os seus bolsos a procura de mais balas e chocolates. Procurando no bolso interno do blusão de couro, saí em cima da razão de sua volta precipitada a Carolina: a foto de uma orelha decepada. Não era dele com certeza, pois as suas duas estavam certinhas em seus lugares.
Meus pais, óbvio, sabiam o que aquilo representava. Tomaram-na de minha mão e puseram-me de castigo. Os outros irmãos, livres de punição, foram mandados para a sala com as empregadas.
Só muito tempo depois eu conheci a história da foto.
Nas muitas andanças pelo centro comercial de Belém atrás de prostitutas, jovens como meu tio brigavam comumente. Aos vinte e dois anos ele se meteu numa briga com outros frequentadores de bordéis. No tumulto da briga, os colegas abandonaram-no à própria sorte cercado pelo grupo rival. Valer-se dos resistentes dentes que quebravam rapaduras no agreste pernambucano foi a maneira que encontrou de livrar-se de tremenda sova ou coisa pior. Resoluto, procurou a orelha mais próxima no bolo de cabeças que tinha sobre si, abocanhando-a por inteiro. A forte mordida tensionou os músculos do queixo a ponto de doerem. O gosto ferruginoso que lhe encheu a boca e o grito lancinante do oponente desfizeram o tumulto num instante. O rapaz perdera a orelha. Os colegas afastaram-se dele horrorizados. Após um segundo de hesitação, recolheram o ferido e abandonaram o ringue.
Meu tio correu desesperado. Perturbado, fugiu cerca de dois quilômetros por galerias pluviais e bueiros sem se dar conta de que a orelha continuava na boca. Ao parar estafado, a respiração ofegante, lembrou-se dela. Cuspiu-a na mão com grande nojo, mas como chegara até ali com ela, enrolou-a no lenço, guardando-a no bolso da jaqueta como um sinistro troféu. Tinha em casa uma Leica alemã, com ela fez uma chapa fotográfica da orelha. Depois jogou-a no vaso sanitário. Por medo de ser descoberto, só revelou a fotografia na véspera da viagem a Carolina.
Chegou com ela no meio dos pertences como souvenir. Ou como sinal de alerta a lembrá-lo dos lugares que poderia frequentar com isenção de riscos.
Foi assim entre pirulitos, balas e chocolates que encontrei a orelha de Belém.
jjLeandro