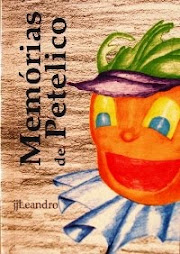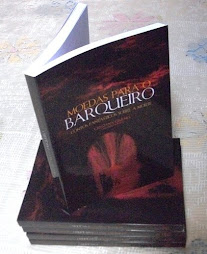Corri, malhei como um jovem. Um jovem de 50 anos. Voltei para casa, banhei, avaliei o físico diante do espelho do quarto: nada mal. Enchi os pulmões de ar e contraí a musculatura. Senti a vida inchando por dentro e os músculos, duros como pedra, reterem o fluido vital.
Animei-me para mais um dia de trabalho. Antes de sair à rua, conferi as anotações para o frugal almoço que deixava todo dia para a minha funcionária doméstica sobre a bancada da cozinha: folhas variadas, cenoura e beterraba cruas raladas, um bife magro grelhado e caldo de feijão. Sem dúvida estava fazendo a coisa certa. Pensei nos anos por virem e lembrei-me do poetinha: “que seja infinito enquanto dure”.
Já havia entrado no carro quando o telefone tocou. Voltei.
—Alô?! Queria falar com o titular da conta.
—Ele falando...
—Senhor José, já pensou que pode morrer hoje?
—Mas que conversa é essa? Isso é trote?
—Nada disso, é a sua operadora de telefonia fixa oferecendo-lhe um plano que inclui seguro por morte e auxílio funeral. Não se esqueça que todo vivo é mortal.
Indignei-me.
— A senhora ia ter certeza disso se estivesse agora diante de mim.
Ela voltou à carga com a voz imperturbável das profissionais de telemarketing:
— Pense que na hora extrema sua família iria sorrir por não deixá-la desamparada: são R$ 22 mil de seguro.
— É pouco, não valho só isso.
Argumentou com a dinâmica da economia de mercado, querendo amarrar-me ao contrato:
— Sempre há reajustes, não se esqueça.
—Não quero, estou muito bem.
Ela não se entregava.
—Qual a sua faixa etária?
—Tenho 50 anos.
—Hummm. Senhor José, lamento informar-lhe que já está com os dois pés na faixa dos que têm grande risco de sofrer infarto ou AVC.
— O Samu é aqui perto, me socorre.
—Sabe que na teoria tudo é bonito. Na prática, essas ambulâncias vivem quebradas.
Voltei a perder as estribeiras ante a insistência dela.
—Moça, você me irrita. A minha pressão vai subir.
—Calma, senhor José. Não vá morrer antes de fecharmos o nosso contrato, por favor.
Bati o telefone na cara dela e saí dirigindo com toda cautela. Por via das dúvidas marquei médico para avaliar o coração e a cabeça.
Um telefonema conseguiu mesmo estragar o meu dia.